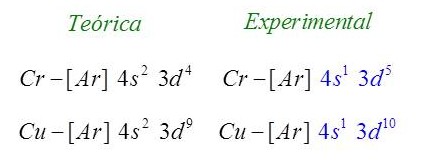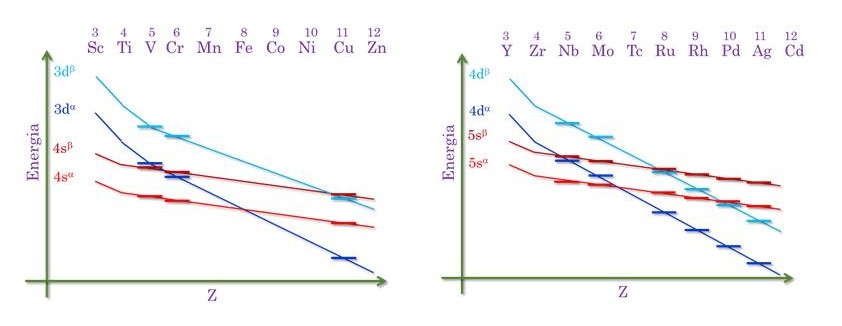ACESSO: 31/03/2016 as 19:16h
Qualquer guerra é um espetáculo sangrento e abominável. Mas até para
matar há limites: as armas não devem causar ferimentos supérfluos,
cruéis, desumanos ou degradantes. Isso em teoria. Pois o homem inventa,
produz, armazena e está pronto para usar um arsenal tão perverso que até
a tênue ética da mortandade fica manchada. São as armas químicas,
chamadas "bomba atômica dos pobres", pois podem ser preparadas em
qualquer país que disponha de uma indústria de fertilizantes químicos ou
pesticidas medianamente desenvolvida.
Meses atrás, por exemplo,
descobriu-se na Líbia uma fábrica de armas químicas disfarçada de
indústria farmacêutica. E uma mostra real desse pesadelo ficou
registrada em março do ano passado no ataque iraquiano com gás mostarda à
aldeia de Halabja, um lugarejo em seu território que havia sido
invadido pelo Irã, habitado pelos curdos. Cinco mil civis foram mortos.
Sete mil ficaram feridos. As imagens das vítimas paralisadas em agonia
horrorizaram o mundo. Por sua vez, a União Soviética foi acusada de usar
gases incapacitantes contra os rebeldes no Afeganistão.
A idéia
de aniquilar o inimigo por envenenamento é bem antiga. Já na Índia de
2000 a.C. era comum empregar nas guerras cortinas de fumaça,
dispositivos incendiários e vapores tóxicos. O historiador grego
Tucídides conta que na Guerra do Peloponeso (431-404 a.C.) os espartanos
colocavam madeira impregnada com enxofre e piche ao redor dos muros das
cidades inimigas, criando vapores sufocantes. No fim do século XIX, na
Guerra dos Bôeres, na África do Sul, as tropas inglesas inventaram um
artifício para lançar ácido pícrico, um explosivo. O engenho não
funcionou, mas começaram aí as tentativas de ganhar combates com armas
tóxicas. No entanto, com o desenvolvimento da ciência, começou também a
fabricação de substâncias poderosamente venenosas para fins militares.
A
Primeira Guerra Mundial (1914-1918) marcou a entrada da química nos
campos de batalha. Em 1915, o cientista alemão Fritz Haber teve uma
idéia para obrigar as tropas inimigas a sair da proteção das trincheiras
e aceitar o combate a céu aberto: espalhou gás cloro num front perto da
cidade belga de Ypres. Foi uma devastação - 5 mil desprevenidos
soldados franceses foram mortos e outros 10 mil ficaram feridos. O cloro
pertence ao grupo dos gases sufocantes, que irritam e ressecam as vias
respiratórias. Para aliviar a irritação, o organismo segrega líquido nos
pulmões, provocando um edema. A vítima morre literalmente afogada.
Como
se não bastasse o cloro, a desenvolvida indústria química alemã
-especialmente a tristemente famosa IG Farben - redescobriu o gás
mostarda, inventado meio século antes na Inglaterra. Além de atacar o
revestimento das vias respiratórias provocando feridas e inchaço, esse
gás com cheiro de mostarda (daí o nome) provoca bolhas e queimaduras na
pele e cegueira temporária. Inalado em grande quantidade, mata. Os
franceses retrucaram como cianeto de hidrogênio e o ácido prússico,
chamados gases do sangue. Quando inaladas, as moléculas desses gases se
unem à hemoglobina do sangue, impedindo-a de se combinar com o oxigênio
para transportá-lo às células do corpo, causando a morte.
Ao
todo, as mortes provocadas por gases venenosos na Primeira Guerra
Mundial somaram perto de 100 mil; os feridos, em torno de 1,3 milhão. A
fama de vilão porém recaiu exclusivamente sobre Fritz Haber, o mentor do
ataque alemão a Ypres. Pouco lhe valeu ser contemplado com o Prêmio
Nobel de Química em 1918 - sob protesto dos cientistas - por ter
conseguido a síntese da amônia, inventando assim os fertilizantes
químicos. Quando Hitler chegou ao poder na Alemanha em 1933, Haber, por
ser judeu, emigrou para a Inglaterra. Ao encontrá-lo em Londres, logo em
seguida, o físico inglês Ernest Rutherford , também Prêmio Nobel,
recusou-se a apertar-lhe a mão. O criador da guerra química morreu no
ano seguinte, de ataque cardíaco. Em 1925, a Liga das Nações, precursora
da ONU, havia proibido no Protocolo de Genebra o uso militar de gases
asfixiantes, tóxicos e outros, assim como o de agentes bacteriológicos.
A
Liga omitiu-se, porém, quanto a fabricação e estocagem desses venenos.
Mal tinha secado a tinta do protocolo, a Espanha reprimiu a gás mostarda
uma revolta em Marrocos, então sua possessão. E em 1931 o Japão usou
fartamente armas químicas na invasão da Manchúria, onde também
realizaria horrendas experiências de guerra bacteriológica. Em 1936, as
tropas italianas jogaram gás mostarda na Etiópia, matando homens,
animais e envenenando rios.
Naquele mesmo ano, na IG Farben
alemã, um químico chamado Gerhard Schrader estava incumbido da pacífica
tarefa de desenvolver inseticidas. Trabalhando com organofosforados -
compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio misturados ao fósforo -,
Schrader sintetizou um produto tão mortífero que era impossível usá-lo
como inseticida. Estava criado o tabun, o primeiro dos gases
neurotóxicos (que agem sobre os nervos), até hoje a mais terrível
espécie de arma química já inventada. Dois anos mais tarde, Schrader
inventou o sarin; e já nos estertores da Segunda Guerra Mundial, em
1944, criou o soman, oito vezes mais letal que o primeiro e duas vezes
mais que o segundo.
Os gases dos nervos matam em minutos. Atuam
inibindo uma enzima chamada acetilcolinesterase, necessária ao controle
dos movimentos musculares. Essa enzima bloqueia os impulsos nervosos que
ativam os músculos. Quando o gás neurotóxico é absorvido, por inalação e
contato com a pele, a produção da enzima cessa imediatamente. Todos os
músculos então se contraem sem parar e acabam estrangulando os pulmões e
o coração. É mais ou menos assim, por asfixia, que morrem os insetos
atacados com inseticidas.
Os gases mortíferos dos nazistas não
chegaram aos campos de batalha, mas foram empregados em larga escala no
assassínio de populações inteiras: a IG Farben desenvolveu o zyklon-B, o
gás usado pelos nazistas para matar milhões de judeus nas câmaras dos
campos de extermínio. Terminada a guerra, os aliados se apoderaram das
técnicas e dos estoques da IG Farben. Em pouco tempo, carregamentos
secretos de gases dos nervos chegaram aos Estados Unidos e à União
Soviética. Ainda havia o que aperfeiçoar nessa área.No começo da década
de 50, a empresa química inglesa ICI criou a chamada família V, com os
gases VE e VX, muitas vezes mais tóxicos que os dos alemães se é que é
possível imaginar isso.
A praga continuou a cruzar novas
fronteiras. Durante os sete anos da Guerra Civil no Iêmen do Norte, de
1962 a 1969, as tropas egípcias que participavam do conflito usaram
armas químicas vindas da União Soviética. O maior escândalo, porém,
aconteceu do lado americano. Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos
jogaram, além do conhecido incendiário napalm, toneladas de gás
lacrimogêneo, que irrita os olhos e as vias respiratórias, deixando as
vítimas fora de combate por algum tempo. O gás lacrimogêneo é usado em
muitos países para dispersar manifestações de rua.
Pior que isso
foi o emprego dos desfolhantes, conhecidos como agentes laranja, azul e
branco. Os desfolhantes haviam sido inventados no fim da Segunda Guerra,
no principal laboratório de pesquisa do Exército dos Estados Unidos, em
Fort Detrick. Tais herbicidas servem para destruir ervas daninhas nas
plantações. O agente laranja, o mais usado no Vietnã, mistura de dois
herbicidas, tinha o objetivo de destruir plantações e florestas,
principalmente matas fechadas à beira dos rios, de onde os guerrilheiros
vietcongues fustigavam tropas americanas.
Dessa vez, porém, os
cientistas honraram a ética da profissão e pressionaram o Congresso
americano a proibir a fabricação de armas químicas. De fato, a produção
dessas armas chegou a ser suspensa em 1969. A população despertou para o
problema um ano antes, quando durante testes com gases neurotóxicos na
base militar de Dugway, no Utah, um vazamento do produto matou 6 mil
carneiros das redondezas.O perigo de viver perto dos armazéns de veneno
já não podia ser subestimado. A notícia do acidente só chegou ao
conhecimento da opinião pública por causa da morte dos carneiros, que
não pôde ser ocultada. Mas é virtualmente impossível, nos Estados Unidos
ou em qualquer outro país, identificar os cientistas a serviço do mal.
Em
nome da segurança nacional, eles permanecem sempre anônimos, da mesma
forma que os laboratórios envolvidos nas experiências. Mas, como os
gases, informações vazam. Na Universidade da Pensilvânia, em 1965, a
desconfiança de um estudante levou à descoberta de dois contratos
secretos com o Pentágono para pesquisa em guerra química e biológica.
Empresas como a Dow Chemical e a Monsanto foram acusadas de fabricar
desfolhantes. Na Alemanha, pelo menos treze empresas fornecem pesticidas
aparentemente inocentes a países do Terceiro Mundo. A rigor, raras
armas químicas conhecidas foram criadas em laboratórios exclusivamente
militares - cientistas acadêmicos ou empregados em indústrias sempre
estiveram por trás dessas pesquisas.
Não é preciso construir
instalações especiais para fabricar armas químicas. Para a vida ou para a
morte, a indústria química funciona do mesmo modo, com dois processos:
conversões químicas e operações unitárias. Conversões são reações entre
produtos químicos nos reatores, recipientes de aço inoxidável revestidos
às vezes de materiais cerâmicos ou plásticos. Operações unitárias são
as conversões físicas, como destilação, evaporação ou filtração. A
grande diferença entre uma indústria química qualquer e uma produtora de
gases venenosos está no cuidado de quem lida com o material.
Naturalmente, quanto mais tóxicos os produtos, maior a necessidade de
segurança. Já lançar armas químicas é uma operação semelhante a um
ataque normal de artilharia - com a diferença de que as bombas não
carregam apenas explosivos, mas também gases. Como os venenos químicos
são perigosos também para quem os joga, os atacantes devem estar
protegidos contra eles. Pensando nisso, os americanos desenvolveram as
chamadas armas binárias. Estas têm dois compartimentos, cada um com uma
substância por si só pouco tóxica. A mistura ocorre na hora da explosão,
formando gás mortal.
Mesmo que os combatentes estejam protegidos
com máscaras e roupas emborrachadas, a luta prolongada no front
envenenado pode ser cruel. As roupas, extremamente desconfortáveis,
tendem a provocar desidratação. Estudos soviéticos mostraram que, depois
de usar a roupa protetora por dezoito horas seguidas, um soldado fica
totalmente fora de combate. Os soldados britânicos, de seu lado, levam
presos ao uniforme pequenos papéis que mudam de cor na presença de gases
tóxicos. Ao perceber que foi atacado com gás dos nervos, o soldado se
aplica imediatamente uma injeção de atropina, um antídoto que traz
consigo. A atropina, substância derivada de uma planta chamada beladona,
faz no organismo o papel da acetilcolinesterase inibida pelo gás.
Porém, se o alarme for falso, a atropina fará com que a pessoa sinta os
mesmos efeitos que o gás lhe provocaria.
O serviço de
inteligência americano, CIA, calcula que vinte países têm armas químicas
e outros dez estão na fila para começar a produzi-las. Os arsenais
conhecidos estão nos Estados Unidos (30 mil toneladas), na União
Soviética (400 mil toneladas), na França e no Iraque. Os países que
provavelmente têm mas não confessam são Egito, Síria, Líbia, Israel,
Irã, Etiópia, Birmânia, Tailândia, Coréia do Norte, Coréia do Sul,
Vietnã, Formosa, China, África do Sul e Cuba. Nas mãos das
superpotências nucleares, pouca diferença fazem os estoques químicos.
O
equilíbrio pode romper-se, porém, com a propagação de armas semelhantes
pelo mundo afora - o mesmo temor, por sinal, inspirou os esforços
contra a proliferação nuclear. A indignação causada pelo ataque
iraquiano a Halabja serviu ao menos para disparar uma nova investida
pelo desarmamento químico. No começo do ano, em Paris, representantes de
149 países condenaram o uso de armas químicas como passo inicial para
futuro acordo de completo banimento. Quem viver verá.
Um bombardeio de doenças.
Existe
algo ainda mais cruel que os gases venenosos. São as armas biológicas -
bactérias para matar o inimigo de doença. As mais cotadas propagam
males como dengue, botulismo, antraz e peste. O dengue, uma febre
tropical causada por vírus, é comum no Brasil e provoca principalmente
dor e rigidez nas juntas do corpo. Já o
botulismo é um envenenamento por uma toxina segregada por uma bactéria.
Um dos mais poderosos venenos conhecidos, a toxina danifica o sistema
nervoso, causando a morte pela paralisia dos músculos respiratórios.
Bacilo
nocivo aos animais, o antraz pode ser fatal ao homem se for ingerido ou
inalado. Dentro do organismo, o bacilo ataca o coração e outros órgãos
vitais. As bombas de peste seriam das formas bubônica e pneumônica. A
primeira não é fatal, mas a pneumônica mata por edema pulmonar.
Aperfeiçoados pela engenharia genética, mesmo os vírus e bactérias não
mortais podem se tornar resistentes a qualquer antibiótico ou outra
defesa conhecida, vitimando populações inteiras. Na Segunda Guerra
Mundial, o Japão atacou onze cidades chinesas com bombas
bacteriológicas. Além disso, japoneses e alemães usaram prisioneiros
como cobaias em experiências com agentes infecciosos.
A Convenção
das Armas Biológicas e Toxinas, de 1972, proíbe o seu desenvolvimento,
produção e estocagem. A despeito disso, calcula-se que uma dezena de
países fabricam tais armas. Ao contrário das suas parentes químicas,
essas nunca foram usadas em larga escala nos campos de batalha. Para o
especialista inglês Julian Perry Robinson, da Universidade de Sussex,
uma explicação pode estar no fato de que o uso de um organismo vivo para
atacar outro dá margem a todo tipo de situações imprevisíveis "e os
militares não gostam de armas que não possam controlar".